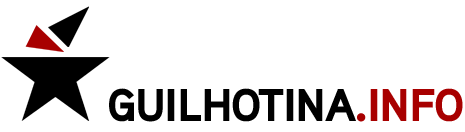A Fuga do Facebook~ 16 min

Por Duarte Guerreiro
Entre 2009 e 2011, ecoaram pelo mundo ocidental um número sem fim de artigos de opinião que atribuíam a redes sociais como o Facebook e o Twitter as responsabilidades pela onda de levantamentos que atingiu partes do Médio Oriente e da América Latina. O tom de tais artigos misturava triunfalismo tecnológico e civilizacional: “Vejam como os nossos valores superiores finalmente estão a chegar a estes povos incultos e imundos graças às maravilhas tecnológicas da Internet.”
No entender destes escribas, estas redes sociais haviam permitido a uma nova geração tecnologicamente apta coordenar-se para exigir democracia e liberdade contra regimes opressores. Deixemos por agora de parte que análises posteriores mais sérias sobre o fenómeno tenham revelado que o uso destas redes sociais para fins de protesto foi grandemente exagerado. Ou que a verdadeira história é que há uma enorme quantidade de jornalistas que, na realidade, não estando no terreno, não falando a língua e não conhecendo a história dos locais sobre os quais escrevem, simplesmente estavam a ir ao Twitter e Facebook para roubar fotos e vídeos e aldrabar uma coisa qualquer sobre o que se estava a passar.
Façamos antes a pergunta – qual o verdadeiro potencial de redes sociais como o Facebook para fins políticos radicais?
Em Portugal, durante o período das manifestações anti-austeridade que começou em 2011, foi visível, em eventos como o Que Se Lixe a Troika e os Cercos ao Parlamento, a velocidade estonteante a que os eventos associados de Facebook cresciam, com milhares de novas pessoas a cada hora. Independentemente de tal não se traduzir necessariamente em participação nas ruas, era um forte sinal de que se estava a conseguir escapar da “bolha” em que a participação política habitualmente se limita, e a chegar a uma audiência maior. Foi em parte o testemunho por parte dos membros e membras da Guilhotina deste poder do Facebook de chegar às pessoas que nos fez investir na plataforma.
Várias das pessoas que viriam a formar a Guilhotina já administravam uma variedade de páginas no Facebook. Fazer crescer a audiência no pré-2014 era um desafio vastamente inferior ao que é hoje. O tempo e conteúdo que no passado gerava milhares de “gostos”, hoje tem sorte se gerar centenas e chega a um número muito mais reduzido de pessoas.
Tendo em conta que a Guilhotina foi lançada em finais de 2013, esta alteração de dinâmica em 2014 foi-nos particularmente óbvia na lentidão com que a página crescia, apesar de contar agora com trabalho colectivo mais prolífico.
O que aconteceu em 2014?
Antes de 2012, uma publicação era igual a uma visualização, desde que alguém tivesse colocado “gosto” na página. O Facebook introduziu então o “alcance orgânico”, que restringe a quantidade de pessoas que inicialmente vêem uma publicação para cerca de 16% da audiência total da página. Dependendo da quantidade de interações que a publicação angaria (comentários, partilhas e gostos), o algoritmo do Facebook poderá decidir mostrá-la a mais gente ou não. Em 2014, a percentagem de alcance orgânico caiu para 6,5%.
Se os 16% já eram um desafio, os 6,5% parecem ter sido um marco não apenas quantitativo mas também qualitativo na dificuldade em chegar à audiência. O alcance orgânico tem continuado a cair desde então, encontrando-se hoje algures entre os 1 a 2%, dependendo de vários factores; por exemplo, páginas pequenas que estão a começar recebem um maior alcance orgânico, que vai diminuindo conforme crescem. Os primeiros 2.000 gostos são notoriamente mais fáceis de obter do que aquilo que se segue, provavelmente numa tentativa de não desencorajar aqueles que estão a investir na plataforma de fresco e fazê-los sentir que, chegando a um certo ponto, mais vale continuar, apesar do retorno reduzido.
O Facebook justificou o alcance orgânico com a necessidade de aumentar a seletividade dos conteúdos, cada vez mais abundantes, que chegavam aos utilizadores. Claro que se existisse uma genuína preocupação com os utilizadores, o Facebook podia perfeitamente oferecer-lhes mais ferramentas de seleção, ao invés de lhes retirar poder sobre o que vêem e dá-lo ao algoritmo. Na realidade, estas alterações serviram obviamente para reforçar junto dos anunciantes a necessidade de pagar o dízimo ao Mark para que lhes fosse permitido atingir à sua audiência – ou, melhor dizendo, aos seus consumidores.
Para páginas políticas, sejam elas ligadas a movimentos, colectivos de informação ou outros – que não contam com recursos financeiros milionários para se “promoverem” – este foi obviamente um passo em direcção à irrelevância, enquanto o capital viu reforçada a sua hegemonia, apesar de ter de passar a pagar o imposto Zuckerberg.
Traição do Facebook aos seus princípios de espalhar a livre comunicação?
De modo nenhum. Só um jornalista de tecnologia, com o cérebro esburacado devido à sobreexposição a citações inspiradoras do Steve Jobs, poderia pensar tal coisa. O objectivo do Facebook sempre foi a extorsão via monopólio, como qualquer startup tecnológica que se preze.
O primeiro passo: identificar um novo espaço de mercado por explorar, recentemente criado pela disseminação de novas tecnologias. Segundo passo: angariar capital de investimento e entrar a todo o vapor para dominar o novo espaço (neste caso, expandir o número de utilizadores da rede social), mesmo que para tal se perca dinheiro, o que no caso do Facebook aconteceu até 2009 – ou seja, andou a queimar dinheiro durante cerca de 4 anos e meio.
Mas tal é esperado, porque é neste ponto que se lançam as sementes do monopólio que virá. Se existisse a preocupação de crescer lucrativamente desde o início, este crescimento seria muito mais lento. E depois quem poderia prever o que aconteceria? E se um gigante já estabelecido como a Apple, Microsoft ou Google dissessem “Boa ideia, vou roubar.”?
Não, é preciso garantir que quando chegar a hora da verdade, a utilização do produto seja tão disseminada que nem seja possível aos utilizadores considerarem uma alternativa, nem exista espaço para a competição crescer. Não entrar no Facebok? Mas como, agora que todos os vossos amigos e família só comunicam por lá, agora que todos os eventos são filtrados por lá? Querem ser ostracizados? Entrem, é gratuito e sempre será. Ok, entraram e descobriram que é um enfado, e agora? Sair do Facebook? Toda a gente que conhecem está lá. Todos os interesses, todas as fotografias, todas as conversas. Impensável, suicídio social.
E é neste ponto, onde a vida sem o Facebook se torna inimaginável, onde este já estava no bom caminho de atingir os seus actuais 2.234 milhões de utilizadores (Janeiro 2018) e capturar a maioria do mercado das redes sociais – apesar de ter caído de um pico de cerca de quase 90% para 65% actualmente (Abril 2018) – é neste ponto que se erguem os muros.
Eis que chega o terceiro passo: exercer o poder de monopólio. Como a Google com a publicidade nos motores de busca (91% do mercado em Abril de 2018) e a Microsoft com os sistemas operativos (81% nos computadores de secretária em Abril de 2018), o Facebook reina incontestado no campo das redes sociais, e isso significa que é o Facebook que dita os preços e os termos. Daí a sua riqueza fabulosa, devido à competição dos anunciantes para conseguir chegar aos sumarentos consumidores no interior da rede social. O Facebook possui a vantagem, possivelmente ainda mais que a Google, de ser uma plataforma onde os próprios utilizadores fazem todo o trabalho de se auto-segmentar através de todas as informações íntimas que partilham com o Mark, pensando que se partilham com amigos e família. Em termos de marketing, é uma dádiva sem preço poder conhecer os seus alvos com tal clareza, ou poder escolhê-los com tanta precisão.
Esta passagem do segundo passo – expansão – para o terceiro – monopólio – torna-se assim a marca de água das possibilidades políticas do Facebook, preso entre o momento onde precisa que toda a gente entre a bordo – e portanto coloca menos restrições à comunicação – e o momento onde atingiu a audiência necessária para começar a apertar com quem nele publica conteúdo, independentemente de ser comercial ou não.
Consequentemente, o Facebook é hoje um enorme centro comercial. Um local onde as pessoas se reúnem, conversam, namoram, realizam actividades lúdicas, mas em que toda esta componente social não passa de um isco para o verdadeiro objectivo de arrastar toda a gente para dentro de um qualquer franchise e metê-las a consumir. As marcas pagam renda ao Facebook pelo direito a um espaço no todo-poderoso centro comercial mundial do Mark Zuckerberg.
E como um centro comercial, não é um espaço pensado para o livre debate político. Por detrás da fachada brilhante, estão os longos corredores de cimento que vão dar às salas de vigilância onde os seguranças podem seguir todos os nossos movimentos através de mil olhos no tecto; onde os marketers tomam nota de cada olhar, cada passo, cada compra; onde departamentos de contabilidade fazem as contas a quantos centavos vale cada um dos nossos euros.
Claro, como em qualquer centro comercial, os visitantes podem-se reunir tranquilamente para discutir as vantagens e desvantagens da ditadura do proletariado nos confortáveis sofás do Starbucks local. Mas experimentem começar a ser demasiado barulhentos, a distribuir panfletos, a organizar, e cedo aparecerão 4 seguranças e 2 polícias a perguntar qual é a ideia e por favor para se meterem a andar que o capital tem mais que fazer que vos aturar.
O ambiente ideal desejado pelo Facebook é um de agressiva normalidade e centrismo, onde nem os consumidores se sentem importunados, nem os anunciantes precisam de preocupar com a possibilidade dos seus conteúdos aparecerem ao lado de cadáveres na Síria e Palestina.
A forma como o Facebook constrói esse ambiente, para além do já mencionado imposto para chegar à audiência, assenta também em mecanismos de censura opaca.
Mecanismos de censura
O primeiro destes é a pseudo-democracia da denúncia, usando a lógica de que se um suficiente número de pessoas sentirem que algo é ofensivo, provavelmente é. Os possíveis abusos de tal lógica são fáceis de prever, e é frequente tanto a extrema esquerda como a direita verem regularmente as suas páginas mandadas abaixo como parte de guerras de denúncias mútuas.
Mas que 10 ou 10.000 racistas denunciem e mandem abaixo uma página pelos direitos negros ou que 10 ou 10.000 machistas façam o mesmo a uma página feminista não torna o processo mais ou menos democrático, até porque a palavra final sobre algo ser removido ou não é dos censores do Facebook. O processo de denúncia apenas dá justificação ao Facebook para se livrar de tudo aquilo que tenha ar de assustar consumidores e anunciantes. E sempre que uma página é mandada abaixo de forma permanente, é preciso reconstruir quase do zero, garantindo que nunca se sai do gueto da pequena audiência.
Ao mesmo tempo, não é preciso grande ciência para adivinhar que, mesmo que reuníssemos 1 milhão de utilizadores para denunciar a Raytheon por fabricar armas usadas para matar civis inocentes, bem podíamos esperar sentados para que a sua página fosse mandada abaixo.
Apesar da Guilhotina só por uma vez ter sofrido este tipo de censura, quando publicámos as fotografias dos violadores da Queima das Fitas em 2017, conhecemos também a experiência de uma página maior – que não será nomeada devido a entretanto ter sido vendida e subsequentemente transformada num saco de lixo – que era recorrentemente mandada abaixo, especialmente quando publicava sobre a Turquia, país com um sector de trolls particularmente desenvolvido.
Um aparte sinistro: depois de um desses ataques, todos os administradores e ex-administradores da página foram trancados das suas contas com a justificação que tinham nomes de utilizador incomuns e possivelmente falsos (o que não era de todo o caso), exigindo o envio ao Facebook de documentos de identificação oficial para que as contas fossem destrancadas.
Após a censura da denúncia, surge a censura dos vagos padrões de comunidade do Facebook, que são pau para toda a obra e dão uma cobertura moral à censura, visto que os conteúdos são sempre eliminados com o pretexto de proteger os utilizadores de algum tipo de trauma, tal como o gerado pela visualização de mamilos femininos. Obviamente que há conteúdos genuinamente censuráveis publicados por cérebros doentes, mas a expressão destas regras na política à esquerda é o impedimento de trazer à luz do dia a tradução no mundo real de conceitos como o racismo, imperialismo e machismo.

Filmaram a polícia a matar um negro indefeso? Filmaram crianças destroçadas por bombas no Médio Oriente? Filmaram mulheres a serem apedrejadas na Arábia Saudita? Lamentamos mas publicar tal violência viola os padrões de comunidade, banidos todos. Mas só se forem um pequeno jornalista, activista ou uma qualquer testemunha do momento. Se forem o New York Times, o Washington Post, a CNN ou a BBC, nenhuma atrocidade, por mais gráfica que seja, está fora do cardápio se ajudar a dar cobertura para lançar novas intervenções militares.
Este processo de deslegitimação de tudo quanto não são interesses do capital só está a acelerar à medida que toda a estupidez à volta das fake news – conjurada por Trump mas empoderada pela cúpula do partido Democrata americano para justificar a derrota patética de Hillary Clinton – descambou num processo de russofobia no Ocidente que está a servir de pretexto para impor um maior controlo sobre a informação. A Google tomou a iniciativa com a delistagem (remoção do motor de busca) ou deranking (dar menos prioridade no motor de busca, atirando os resultados para o fundo de uma longa lista) de uma série de sites independentes, especialmente aqueles com posturas anti-imperialistas e cépticos das narrativas oficiais que apontam o dedo a Putin sempre que alguém entorna café em Washington.
Agora será o Facebook a estabelecer o seu próprio sistema de censura mais descarada, já tendo anunciado uma parceria com o Conselho Atlântico para decidir o que são notícias verdadeiras ou falsas.
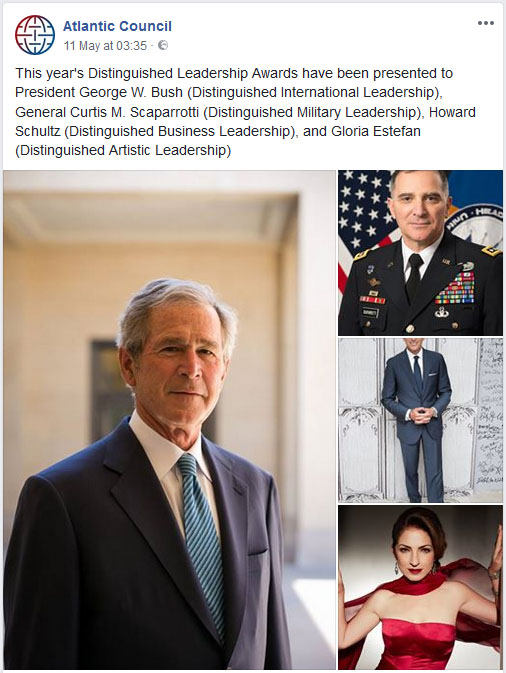
O Conselho Atlântico, lembremo-nos, é um think tank financiado por conhecidos campeões da paz, democracia e liberdade tais como: Emirados Árabes Unidos, Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, Airbus, Carnegie Corporation, Chevron, Ministério do Negócios Estrangeiros do Reino Unido, NATO, Grupo Blackstone, Google, HSBC, Lockheed Martin, Raytheon, Rockefeller, Departamento de Estado dos EUA, ExxonMobil, JPMorgan Chase, Corporação Petrolífera Turca, Pfizer, Bank of America, Boeing, BP, Deloitte, Banco de Investimento Americano, Northrop Grumman, Shell, Statoil, quatro dos cinco ramos das Forças Armadas americanas (força aérea, exército, fuzileiros e marinha), Wal-Mart e os Ministério da Defesa da Noruega, Suécia, Japão, Letónia e Lituânia. Uma pequena selecção dentre muitos, muitos outros grandes nomes do humanismo e progresso civilizacional.
Não que coisas peculiares dentro do âmbito dos interesses do imperialismo não tivessem já acontecido. Na Guilhotina denunciámos o desaparecimento pela calada da nossa publicação sobre os Capacetes Brancos, que só descobrimos por acaso quando a tentámos encontrar para deixar como referência noutra publicação. Nunca recebemos qualquer notificação de que o conteúdo havia sido removido no ano e quatro meses que passaram desde a sua publicação original. Fica a suspeita de que o motivo porque as ferramentas de pesquisa cronológica do Facebook foram ficando piores com o passar do tempo se deve à plataforma estar a pensar fazer edições ao passado. A tal publicação dos Capacetes Brancos foi reposta pouco tempo depois da primeira descoberta do seu desaparecimento, mas entretanto voltou a sumir-se.

Ou aquela vez em que o Facebook insistia que “houve um erro” quando tentávamos publicar sobre a invasão turca de Afrin que estava a decorrer na altura, mas permitia a publicação de tudo o resto. Experimentámos publicar as imagens da ofensiva turca com um texto diferente que não mencionava a Turquia, Erdogan, curdos, Afrin, etc. e eis que o “erro” se sumiu. Foi também por volta dessa altura que muitas páginas ligadas à causa curda foram purgadas desta rede social. O momento mediático dos curdos como heróis e heroínas que combatem o ISIS havia passado, e era agora a hora do realpolitik e dar espaço a um dos principais membros da NATO para poder levar a cabo uma limpezazinha étnica.
Enfim, não era expectável que uma plataforma da dimensão do Facebook conseguisse para sempre evitar jogar um papel mais activo no campo da política, tendo em conta que o capital não pode permitir a poderes propagandísticos de tal dimensão andarem para aí à solta.
E o que significa tudo isto para nós?
A realidade é que é o Facebook não é abandonável, pelo menos por agora. Há infelizmente demasiada gente enfiada “lá dentro” para ser possível simplesmente virar as costas à plataforma. Mas é certamente verdade que a falsa promessa que um dia fez, de chegar a novas audiências, está praticamente morta e enterrada. Neste momento, investir no Facebook como plataforma é um erro. O Facebook, para quem não paga o imposto Zuckerberg, não passa de um sistema de lembretes para uma audiência que já nos conhece, e mesmo essa vê-nos cada vez menos. Lembrete: publicámos um artigo novo. Lembrete: vai haver um evento assim ou assado. Lembrete: saiu o novo jornal Mapa.
E só vai ficar pior daqui para a frente. É portanto imperativo que todos os colectivos políticos que queiram ter voz a longo prazo criem as suas próprias plataformas online o mais brevemente possível, invistam em múltiplas redes sociais e pensem em novas formas de chegar a audiências no mundo real, enquanto continuamos a utilizar o Facebook de forma utilitária. Porque um dia destes alguém vai carregar num botão que diz que somos todos fake news e é o fim da macacada no centro comercial do Mark.