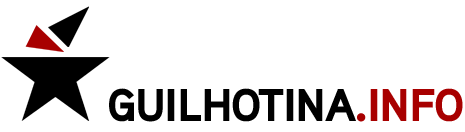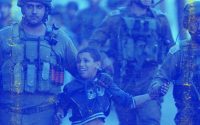Por que não querem a CGTP, o MDM e o PCP apoiar a luta das mulheres em Portugal?~ 9 min

Por Aline Rossi
Estava sentada em um café junto com um grupo de ativistas quando questionei à amiga ao meu lado porque o Movimento Democrático de Mulheres não apoiava nem se juntava à Greve Feminista das mulheres em Portugal.
Estive envolvida na construção da greve desde o início, mas sempre vi o MDM, um braço do influente Partido Comunista Português, sair às ruas num “movimento à parte”, sem se misturar com as “outras”. Talvez na minha visão de imigrante brasileira, que possa carecer de conhecimentos sobre o partido e as suas relações com o ativismo de bases, nunca entendi bem a razão. Sobretudo, ficava um pouco desapontada, pois reconhecia o MDM como uma das poucas instituições corajosas em se posicionar sobre tópicos que tantos outros grupos do movimento feminista não ousavam navegar.
“Nós não reconhecemos a Greve Internacional Feminista como uma greve real porque ela abarca muitas questões invés de ter uma pauta específica, por isso não há uma reivindicação clara e nos parece pouco provável que traga algum benefício para a classe trabalhadora”, disse minha colega, integrante do Movimento Democrático de Mulheres, um dos mais antigos movimentos de mulheres do país, e militante do Partido Comunista Português há muitos anos.
“Foram mais de 20 mil pessoas só nas ruas de Lisboa. Mais de 30 mil no país. Como pode não ser uma movimentação legítima de trabalhadoras?” desafiei. “E o que você propõe? Considerando que que há muitas questões que não podem ser convocadas por sindicato, como o trabalho doméstico que é jogado nas costas das mulheres, e que não podem ser negociadas com nenhuma entidade patronal? Como você organizaria, o que faria?”
A resposta veio, plana e simples: “Iria para a manifestação do MDM”. Frente a tal resposta, não hesitei em questionar:
“Uma manifestação que não tem reivindicações, não tem pré-aviso de greve, apesar de a CGTP ser a maior central sindical do país, portanto não é uma greve como exige que sejamos, e que, por isso mesmo, não pode conquistar ganhos para as mulheres? Ou seja, iria para uma caminhada pacífica…?”
Ela deu de ombros, concordando que minha crítica tinha sentido, mas deixando transparente como água que não haveria respostas nem acordos naquela conversa.
Tendo eu participado ativamente na construção da Greve Internacional Feminista de 2019, reconhecia a legitimidade da crítica da companheira ao meu lado e confesso que é, atualmente, uma das minhas preocupações relativamente ao rumo da Greve Feminista em Portugal.
Diferente daqueles que, sem construir ou participar, criticam externamente a greve por não ser como idealizam que uma greve deve ser, prefiro pensar a articulação da Greve Feminista em Portugal como uma caminhada, um processo de construção coletiva que inevitavelmente irá amadurecer na sua organização. Aliás, vejo as reivindicações pontuais e o estabelecer de uma negociação com o Estado para assegurar que aquelas se cumpram como o próximo passo que a Rede 8M deverá dar.
Há algum tempo que Lisboa (e todo o país) não via tanta gente nas ruas como viu no passado 8 de Março de 2019, provavelmente desde as manifestações do Que Se Lixe A Troika, em 2012. Tamanha mobilização foi resultado de um ano inteiro de trabalho coletivo em todo o território nacional (e mesmo internacionais, visto que foi com o apoio e troca de informações com as mulheres de Espanha, onde o Partido Comunista inclusivamente participa da construção, que passamos a articular como tal). Vale ressaltar também que, ao contrário do que a teoria conspiracionista da Revista Sábado quis aparentar, a Greve não foi “obra do Bloco de Esquerda”, mas sim de diversas organizações, coletivos e ativistas feministas.
A Greve Internacional Feminista começa em 2017 como uma resposta do movimento de mulheres a uma sucessão de ataques a nível global que estávamos (e ainda estamos) a sofrer.
O ano precedente, 2016, foi o estopim para que esta articulação acontecesse. Na Polônia, as mulheres saíram às ruas, numa greve inesperada, frente à ameaça de um parlamento que pretendia banir a lei do aborto. Na Argentina, manifestações pela legalização do aborto escalonavam, lado a lado com uma ultrajada massa de mulheres que denunciava a tortura, violação e feminicídio de uma jovem de 16 anos, Lucia Perez, e contra a prisão de Higui, lésbica que foi espancada, assediada e sofreu uma tentativa de violação corretiva.
Em Espanha, o caso que ficou conhecido como “La Manada”, em que 5 homens adultos perpetraram a violação grupal de uma adolescente de 16 anos, trazia à tona a banalização da violência contra mulheres. No Brasil, a presidenta Dilma Roussef era arrancada do seu cargo enquanto inúmeras mensagens misóginas com alusão à violação circulavam amplamente nas ruas. Nos Estados Unidos, Trump “Grab’em by the Pussy” subia ao poder, fazendo sair às ruas uma furiosa Marcha de Mulheres. Além disso, 2016 foi o ano em que explodiu a (cada vez maior) crise de refugiados, que fazia milhares, principalmente mulheres e crianças, desembarcarem numa pouco receptiva Europa.
É nesta efervescência social, deixando cada vez mais clara a derrocada de uma organização política, social e econômica das sociedades, e que penalizava especialmente mulheres, que surge a Greve Internacional Feminista. Uma insurgência internacional de mulheres sobrecarregadas com a ameaça e a realidade da violência sexual, económica e política em escala mundial.
A Greve Feminista que Portugal assistiu em 2019 não foi um feliz acaso, nem foi constituída por 30 mil mulheres burguesas e ricas, para ser agora dissociada da luta das mulheres da classe trabalhadora. Secundada por 5 sindicatos, principalmente de setores altamente femininizados – a saber, o Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup), Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Solidariedade e Segurança Social (STSSS), Sindicato dos Trabalhadores de Call-Center (STCC ), Sindicato de todos os Professores (STOP) e Sindicato das Indústrias, Energia, Serviços e Águas de Portugal (Sieap) – a greve em Portugal foi e é uma construção coletiva de mulheres em busca de alternativas para opressões históricas e atuais às quais, inclusive, tanto sindicatos quanto partidos têm sido incapazes de responder pela sua própria estrutura.
Poderá a CGTP ou qualquer outra sindical dar algum pré-aviso de greve para que as mulheres parem o trabalho doméstico e reivindiquem melhores condições de vida? Poderão o PCP ou o Bloco tirar dos ombros das mulheres a dupla jornada de trabalho, em que trabalham como todos nas empresas e depois continuam em casa, com a roupa, o chão, a criação dos filhos, o jantar? Horas desgastantes dedicadas todos os dias para renovar a força de trabalho, reduzindo o nosso necessário tempo de lazer e convívio, a fazer um trabalho, absolutamente necessário e completamente invisibilizado, do qual a economia do país se beneficia direta e indiretamente.
Além do trabalho reprodutivo, descobrimos que nenhum sindicato seria capaz de resolver a violência sexual e os índices assustadores de feminicídios que as mulheres assistem anunciar gradualmente, esperando não sermos nós as próximas a aparecer nos canais de televisão.
Descobrimos que nenhum sindicato seria capaz de representar as demandas específicas das mulheres estudantes relativamente aos assédios nas escolas e universidades; ou o fato de sermos empurradas para fora das universidades quando somos mães, porque não há creches nem apoio; ou por termos nossa história invisibilizada das narrativas globais e nacionais porque os manuais insistem em vangloriar feitos masculinos enquanto apagam a história e luta das mulheres; ou mesmo pelo simples fato de a educação pública em todos os âmbitos insistir em uma pedagogia que reproduz o sexismo e a divisão sexual do trabalho desde o manual escolar até à prática educativa no ambiente escolar e universitário, seja na educação básica, na praxe universitária ou no professor que faz piadas sobre a incapacidade “natural” das mulheres.
A Greve Internacional Feminista é não só uma resposta das mulheres à crescente necessidade de reorganização de uma Esquerda pós-globalização neoliberal, em que partidos e sindicatos, pelas estruturas burocráticas das quais se embutiram, não são plenamente capazes de responder, por si, às “questões das mulheres”.
É também uma resposta à invisibilidade e a marginalidade que têm sido impostas a essas que são, na verdade, questões de toda a sociedade. Uma questão de sustentabilidade, de bem-estar e de justiça social. Uma questão sobre reproduzirmos nossas vidas e nossas famílias de uma maneira possível, humana, digna; sem nos acabar no trabalho precarizado fora e dentro de casa. Uma questão sobre poder viver com dignidade e com total soberania ao próprio corpo, sem ser considerada uma cidadã de segunda classe, que é o que acontece quando se espera que uma pessoa faça o trabalho doméstico apenas por nascer de um determinado sexo e a outra não.
A Greve Internacional de Mulheres é uma construção coletiva de massas. Especialmente, dos setores mais marginalizados da sociedade – as mulheres imigrantes sem habitação, as mães sem assistência, as racializadas precarizadas, as lésbicas marginalizadas, as estudantes sem acessos reais à formação e pesquisa.
Em seu auge, esta greve seria, provavelmente, o melhor sonho de Rosa Luxemburgo como idealizado em sua “greve das massas”. E não disputar nem construir um movimento massivo de recusa do trabalho, não só do trabalho visibilizado pelo Capital, e que reivindica uma reorganização social centrada na vida e não na produção, construído por mulheres trabalhadoras da base, seria tanto um erro prático como uma falta enquanto marxistas.
Assim, invés de ignorar e sectarizar um movimento que só tende a crescer e realmente internacionalizar a sua articulação conforme amadurece, seria imensamente construtivo que o Movimento Democrático de Mulheres e o Partido Comunista Português reafirmassem seu compromisso com a causa da classe trabalhadora e, mais especificamente, com a emancipação das mulheres trabalhadoras, e se juntassem à Greve Internacional Feminista 2020.
Ou não estarão a CGTP, o MDM e o PCP ao lado das mulheres?
Aline Rossi escreve no blogue Feminismo com Classe, onde também publica de forma prolífica traduções de textos feministas de todo o mundo. Recomendamos a visita.