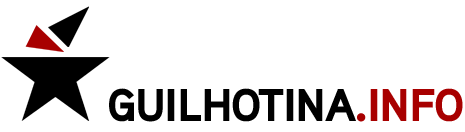Juventude e prostituição: o caso português~ 13 min

Por Aline Rossi
A primeira vez que vim viver para Portugal, há quase 10 anos atrás, tinha 19 anos. Vim como uma estudante estrangeira para a Universidade de Coimbra, e o governo brasileiro pagou tudo.
A minha primeira surpresa foi perceber que muitas das pessoas portuguesas que encontrei nunca tinham trabalhado antes dos 21; isto era especialmente verdade nas maiores cidades. Alguns tinham 25 ou 27 e estavam à procura do seu primeiro emprego. No Brasil, por outro lado, é muito comum começar a trabalhar cedo. Por necessidade, não porque somos viciados no trabalho, claro. A minha primeira experiência de trabalho aconteceu quando ainda só tinha 15 anos.
A minha segunda surpresa foi que muitas pessoas nos trintas ainda estavam a viver na casa dos pais e não tinham perspectivas de sair. Isso impressionou-me muito, uma vez que acho difícil acreditar que qualquer pessoa entre os 25 e os 30 não gostasse de ter o seu próprio espaço e estabelecer a sua autonomia.
A terceira surpresa foi que a universidades “públicas” não eram gratuitas – no Brasil eram, e assumi que assim o seriam em todo o lado. O que isto implica é que as pessoas à minha volta só podiam obviamente ser aquelas cujas famílias tinham capacidade de suportar os gastos de admissão e permanência – já para não falar de outras despesas familiares comuns, tais como habitação, electricidade, água, comida, roupa, lazer. Afinal de contas, a maioria dos jovens não trabalhava, e a universidade era um trabalho a tempo inteiro. Isto também significa que uma porção significativa das pessoas a viver em Portugal, sejam portuguesas ou não, não tinham acesso ao ensino superior.
Era 2010 e Portugal estava a passar por uma crise devido às políticas de austeridade do governo. A situação era tal que até alguém como eu, uma jovem estudante com uma bolsa do governo e poucas responsabilidades financeiras, sentiu a diferença no curto espaço de dois anos. Senti a diferença no custo das mercearias (e eu não tinha crianças para alimentar), senti o aumento do stress colectivo por entre a população geral, e vi especialmente na faculdade que a maioria dos meus colegas estavam a desistir porque não tinham meios económicos para continuar. Porque as suas famílias estavam endividadas. Aqueles que ainda lá estavam, se não eram simplesmente ricos, foram trabalhar para bares à noite como parte de um esforço complicado para acabar os estudos.
Durante esses anos, eu conheci os activistas do “trabalho sexual” que defendem a legalização da prostituição – que não é ilegal em Portugal, mas recebe pouca ou nenhuma atenção do Estado no sentido de contar com políticas eficazes de prevenção e redução de danos. Voltei para o Brasil convencida de que reconhecer a prostituição como “trabalho sexual” na Lei era a melhor coisa a fazer; porque as pessoas podem querer entrar na prostituição, porque quase não havia prostituição de rua em Portugal, porque muitas das pessoas na prostituição até estavam na faculdade, porque ter um contrato de “trabalho sexual” significava direitos. A maioria de nós provavelmente já conhece os argumentos.
Levou-me alguns anos até descobrir, e fi-lo conforme me estava a tornar mais e mais uma activista feminista, indo a debates e a participar em projectos de intervenção social, que isto era mais uma táctica argumentativa do que uma realidade concreta observável, e muito menos era uma proposta prática.
Esta imagem da prostituta iluminada com um diploma de bacharelato – que Rae Story, que foi prostituta e agora faz campanha pelo abolicionismo, chama de “[dar a aparência de] classe-média à prostituição” – não correspondeu, e ainda não corresponde, à esmagadora maioria das realidades das pessoas, mulheres na sua maioria, na prostituição.
De facto, se em Portugal era mais comum encontrar prostitutas na faculdade do que, por exemplo, no Brasil, onde é muito mais visível que a prostituição é uma consequência directa de desalojamento, pobreza e fome, é apenas porque a universidade é inacessível e está a empurrar mulheres para a prostituição. As propinas, os custos de ir e ficar na faculdade enquanto mulher jovem num mercado laboral precário e mal pago eram insustentáveis.
De acordo com um estudo realizado pela Secretaria-Geral das Estatísticas de Educação e Ciência, quase um terço dos estudantes em Portugal desistem do ensino superior. 1 em cada 2 pessoas que entram a partir dos 23 anos desistem da faculdade sem terminar os estudos (normalmente estes são aqueles que trabalham e estudam depois do trabalho, vivendo uma rotina sobrecarregada). A questão económica é ainda mais clara quando se toma em consideração os dados que indicam que 30% desistem nas universidades públicas e quase 40% nas universidades privadas. Previsivelmente, as mulheres estão entre a maioria dos desistentes.
E a glamorização da prostituição como empoderadora, como uma escolha com retornos rápidos para pessoas de “mente aberta” – o que é, já agora, um discurso crescentemente hegemónico na Academia – oferece a alternativa mais palpável e imediata que pode ser reconciliada com os horários e exigências da faculdade. Claro, se fores uma mulher e já tiveres sido bombardeada durante a tua vida com referências de media relativas à imagem da mulher como objecto sexual para consumo dos homens, este argumento ganha um peso mais significativo.
A segunda vez que voltei para Portugal, há cerca de 4 anos atrás, foi e ainda é muito diferente. Vim como imigrante com um filho de 2 anos de idade, e tinha de trabalhar como todos os outros para providenciar para a minha família e mim mesma.
E o que descobri foi um mercado de trabalho provavelmente pior do que quando primeiro saí. Encontrei arrendamentos de habitação que tinham aumentado muito para lá do salário mínimo. Uma vez que viver no centro da cidade não era possível devido ao preço dos arrendamentos, descobri que, afinal de contas, na verdade havia muita prostituição de rua. A maioria no campo, mas também em Lisboa. E na maioria eram mulheres imigrantes, brasileiras como eu, ou africanas ou romenas. Também descobri que o meu filho não tinha direito a creche e que teria de pagar por ela. Descobri que pagar por transportes públicos significava um peso no orçamento da minha família e que não ter mobilidade seria, no mínimo, uma violação dos meus direitos civis.
Descobri que os meus amigos, agora nos seus quarentas, finalmente tinham saído da casa dos pais, mas para viver com 3 ou 4 outras pessoas, porque viver sozinhos era impossível. Como é que se pode ganhar 600 euros por mês e pagar 600 euros de renda? E quanto a tudo o resto? Eu descobri uma nova realidade em que os jovens iam trabalhar mais cedo porque não conseguiam pagar as propinas. Descobri que o movimento estudantil que havia seguido anos atrás ainda estava no mesmo sítio, com as mesmas exigências, porque a universidade ainda era inacessível.
Só agora que me tinha tornado uma feminista mais atenta às consequências das políticas estatais na vida das mulheres é que me era possível ver a realidade em Portugal. A realidade de ganhar menos, o que significa que podes comprar menos habitação e menos comida, a realidade de mulheres que são imigrantes a trabalhar sem contrato porque “é a vida”, mulheres que não têm creche e abandonam os seus empregos quando engravidam, ou mulheres que são desclassificadas de entrevistas de trabalho porque são mulheres e podem engravidar um dia.
Descobri uma realidade de mulheres que perdem as suas casas, algumas que eram mães de três ou mais, devido à especulação no mercado imobiliário. E não ter casa ou rendimentos, com crianças, é sinónimo de prostituição. Especialmente se fores imigrante e/ou parte de um grupo racializado.
A minha geração é chamada de “geração canguru” porque, aparentemente, “não queremos largar a bolsa dos pais.” Sim, queremos, mas não podemos. Queremos, mas as alternativas políticas oferecidas pela maioria dos governos são precariedade ou prostituição. Não somos a “geração canguru”, somos a geração da precariedade.
Somos a geração que viu a explosão da crise financeira. Vimos as nossas famílias a entrar em endividamento devido às políticas de microcrédito dos bancos e, consequentemente, tivemos de ir à busca de dinheiro para ajudar em casa. Somos a geração que viu a redução da assistência social e o aumento da privatização das universidades.
A minha geração estava condenada a trabalhos instáveis onde nos chamam “empreendedores”, quando na verdade somos precários, mal pagos e inseguros de termos dinheiro no mês que vem. A minha geração não terá casa ou propriedade a não ser que os nossos pais as deixem como herança; a minha geração precisa de dividir a renda na casa de outra pessoa. E a minha geração está a recusar-se a ter crianças, porque aqueles que têm crianças, como eu, deram por si num beco sem saída onde a prostituição não é uma escolha empoderadora, mas uma possibilidade ameaçadora que paira sobre nós. Principalmente sobre as mulheres.
E a resposta política que nos oferecem é tanto inaceitável como inacreditável. Agora somos “capazes” de resolver a nossa situação ao fazer sexo anal, vaginal, oral ou em grupo com estranhos para ganhar a vida e ter algures onde viver, algo que comer e poder estudar. Fantástico, não é?
O que se seguirá? Iremos receber treino vocacional nas escolas para nos tornarmos “trabalhadoras do sexo”? Iremos ter estágios e treino de prostituição? Irão as muito dispendiosas escolas de topo com pedagogias alternativas também oferecer, sem hipocrisia, esta “opção” para as filhas e filhos dos eurodeputados, primeiros-ministros e presidentes, para que possam ganhar a vida a vender acesso sexual aos seus corpos, reduzindo-se a objectos sexuais para satisfação de outros, para quem quer que possa pagar? Ou, previsivelmente, é esta uma solução progressista para aqueles jovens, como eu, da classe trabalhadora?
Como se isto não bastasse, a inevitável desigualdade promovida pela manutenção e a proposta naturalização da prostituição é o que me incomoda mais agudamente enquanto mulher que combate pela libertação.
Sabemos empiricamente e estatisticamente que a prostituição afecta maioritariamente as mulheres. Até os homens pobres e sem-abrigo não estão tão proporcionalmente representados na prostituição como estão as mulheres. Encontramos os homens sobre-representados à cabeça do negócio, em bordéis legais que prosperam como se franchises de fast food, e como investidores na indústria pornográfica. São na maioria os homens que estão a vender e consumir maioritariamente mulheres. Mulheres jovens. Muitas vezes crianças, ou adultos que imitam crianças, que é outra forma de dizer que afecta a juventude, ao promover uma cultura pedofílica.
E o que a naturalização dos sistemas de prostituição nos ensina, e especialmente aos jovens, que irão crescer a receber estas referências culturais, é que é natural vender a sua sexualidade. É natural comprar outro ser humano porque se quer ser satisfeito. É natural que os homens tenham poder sobre as mulheres. Afinal de contas, nós somos a maioria que está lá a servi-los, e eles são a maioria dos que tanto nos compram como nos vendem.
Como disse uma grande autora feminista, “esse é o tipo de poder que os reis tinham nas sociedades feudais: eu quero algo, tu fazes. Eu quero-o agora, fazes agora. De joelhos.” E se isto é real, então não somos todos iguais. Se isto é real e considerado normal, então há um tipo de cidadão que não é assim tão cidadão quanto isso; ele ou, mais provavelmente, ela é um cidadão de segunda classe, uma “pessoa” com menos direitos, que é menos humano porque pode ser comprado ou vendido por outras pessoas. Porque outros têm poder sobre ela e decidem sobre ela. E esta segunda classe é esmagadormente constituída por mulheres jovens. Mulheres que, enquanto na prostituição, consequentemente, são puxadas para longe da política, da investigação, da produção de conhecimento e do trabalho produtivo da sociedade.
Não é a ausência de um contrato ou de um sindicato que faz da prostituição mais palatável ou menos violenta. A violência é intrínseca à prostituição porque reduz a existência de um ser humano, normalmente uma mulher e normalmente jovem, a buracos sexuais que podem ser comprados por quem quer que possa pagar, normalmente um homem. A violência é intrínseca à prostituição porque é a própria condição de se ser comprada e vendida que faz da prostituição violenta, não uma escolha, não um emprego – e um contrato de “trabalho sexual” não irá mudar esta realidade.
O aborto é uma realidade na prostituição, e o contrato não muda essa realidade. O abuso é uma realidade na prostituição, e o contrato não muda essa realidade. A pobreza e o sexismo criam a prostituição, e a minha geração, nós jovens, sofremos particularmente com esta situação, e ter um contrato de “trabalho sexual” não vai mudar essa realidade. Estão a propor o reconhecimento na Lei da violência e desigualdade, não uma política pública para ajudar mulheres, homens e crianças na prostituição. A proposta para a reconhecer legalmente como trabalho não oferece saída. Não previne ou reduz o mal. Tudo o que faz é criar e perpetuar um ciclo vicioso de exploração sexual legitimada pelo Estado.
Portanto, como mulher, como ser humano com o direito de participar na política e ser ouvido sobre o meu futuro, o meu presente e a minha vida, como mãe de uma jovem criança, como feminista, rejeito absolutamente a oferta por parte de representantes da sociedade civil mundial da profissionalização da violência sexual contra mulheres como alternativa a ter acesso aos nossos mais básicos direitos humanos: habitação, saúde, educação, comida e soberania sobre os nossos próprios corpos. Isto não é negociável.
Rejeito um futuro baseado na desigualdade política, económica e social entre os sexos. Rejeito um futuro precário, porque o nosso bem estar e plenitude civil não é reconciliável com a mercantilização de algo tão íntimo quanto a nossa sexualidade, a nossa subjectividade e os nossos corpos.
Exigimos respostas políticas adequadas para endereçar as condições que tornam a prostituição real: a precariedade do trabalho, desalojamento, o negar de direitos de cidadania a pessoas imigrantes e refugiadas, a falta de políticas de assistência à família, o machismo institucional. Exigimos que sejam oferecidas alternativas reais a mulheres que queiram sair do sistema de prostituição, e se concordarmos que sim, é de facto violência, como escrito no acordo internacional do CEDCM (Comité para a Eliminação da Discriminação Contra Mulheres), exigimos que os responsáveis por o perpetuar, seja como compradores, vendedores ou facilitadores, sejam responsabilizados e reeducados.
Não aceitaremos que a juventude seja vendida a chulos e traficantes sexuais sob a égide do “trabalho sexual”.
Aline Rossi escreve no blogue Feminismo com Classe, onde também publica de forma prolífica traduções de textos feministas de todo o mundo. Recomendamos a visita.